Ética e questões deontológicas na Sociologia e na Sociedade do Consentimento

A ética e a deontologia são conceitos complexos e próximos um do outro. Os dois conceitos são convocados no âmbito deste texto, de forma instrumental, para discutirmos princípios e regras de conduta que devem orientar a prática profissional no âmbito da sociologia.
A primeira dificuldade deriva, desde logo, em delimitar o âmbito da atividade profissional dos sociólogos. Ainda assim, entre os princípios transversais éticos e deontológicos de qualquer profissão e aqueles que têm especificamente a ver com a sociologia, há um conjunto de questões pertinentes que não pode ser ignorado por aqueles que adquiriram, estão a adquirir ou pretendem adquirir uma formação em sociologia. Dito isto, convém clarificar que não queremos desenvolver aqui uma reflexão sobre os deveres e as obrigações profissionais em geral, sendo que esta reflexão também não se restringe, nem poderia fazê-lo, meramente à sociologia.
A Associação Portuguesa de Sociologia e a Organização Internacional de Sociologia possuem códigos éticos e deontológicos dirigidos aos seus associados. Esses códigos, diria, são minimalistas, abrangendo o exercício da “profissão”. Já a Associação Europeia de Sociologia, na sequência da revisão estatutária de 2015, publicou nesse ano a sua “Declaração de Princípios Éticos”. Contudo, esta declaração, que institui 12 princípios, não tem especificamente a ver com questões profissionais, remetendo para os compromissos éticos da associação nos campos em que atua.
O código de ética da Associação Americana de Sociologia, por exemplo, é muito abrangente e remete especificamente para dimensões relativas à conduta e às responsabilidades profissionais dos sociólogos. Focando-se, em concreto, nas competências profissionais; na integridade relativa ao exercício de funções; nas responsabilidades profissionais e científicas; no respeito pelos direitos, pela dignidade e pela diversidade das pessoas; e na responsabilidade social. Códigos de ética em áreas afins à sociologia reiteram em termos gerais ou particulares as preocupações presentes no código anteriormente referido. Disso são exemplo o código de ética da Associação Brasileira de Antropologia, que fixa sumariamente os direitos dos antropólogos, os direitos das populações com quem eles trabalham e as suas responsabilidades no contexto da prática profissional que desenvolvem. No mesmo sentido, mas com maior abrangência e detalhe, temos o exemplo do código de ética profissional dos assistentes sociais brasileiros. Não faltando exemplos, também próximo da sociologia, vale a pena destacar o código de ética dos trabalhadores sociais, que enquadra, entre outras, questões relativas ao envolvimento comprometido, vide partidário, desses profissionais com as populações que servem. Aliás, o código de ética da Associação Americana de Sociologia também impede os sociólogos não apenas de praticarem, mas também de aceitarem qualquer tipo de discriminação.
Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, há questões e preocupações gerais que enquadram a existência destes códigos e que são relevantes e incontornáveis para que os sociólogos estruturem e orientem as suas condutas profissionais.
Se considerarmos que as funções profissionais dos sociólogos - e aqui incluem-se aqueles que estão inseridos num ciclo de formação em sociologia - se podem repartir por atividade de investigação científica, pelo exercício de profissões diversas onde se faça uso das competências sociológicas, pela prestação de serviços e pela docência, as questões éticas relevantes terão sempre de ser consideradas em relação ao tipo de função desempenhada.
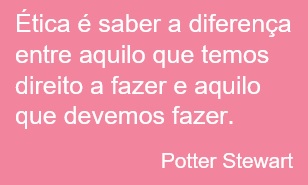 Uma primeira questão relevante que podemos destacar pela sua abrangência em termos éticos, e que tem particularmente a ver com o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa e de investigação científica, é a do consentimento. Esta questão é tanto mais relevante quanto é ela que efetivamente baliza as condições objetivas de realização do trabalho e os compromissos com a ética. Ou seja, nem sempre é fácil compaginar o respeito dos princípios éticos, mantendo devidamente informados os indivíduos que são objetos de pesquisa e garantindo-lhes em permanência o direito da livre participação, e a necessidade de concretizar o trabalho em tempo útil e em observação rigorosa dos procedimentos metodológicos.
Uma primeira questão relevante que podemos destacar pela sua abrangência em termos éticos, e que tem particularmente a ver com o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa e de investigação científica, é a do consentimento. Esta questão é tanto mais relevante quanto é ela que efetivamente baliza as condições objetivas de realização do trabalho e os compromissos com a ética. Ou seja, nem sempre é fácil compaginar o respeito dos princípios éticos, mantendo devidamente informados os indivíduos que são objetos de pesquisa e garantindo-lhes em permanência o direito da livre participação, e a necessidade de concretizar o trabalho em tempo útil e em observação rigorosa dos procedimentos metodológicos.
Nas ciências médicas e na prática clínica, o consentimento informado tem uma história antiga e procedimentos legalmente definidos. A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), por exemplo, obriga à entrega de um formulário de notificação de investigação clínica, não só porque os dados coletados, normalmente, não são anónimos, mas também porque a informação recolhida é sensível e intrusiva. São estas mesmas razões que justificam que a realização de um inquérito por questionário, por exemplo, não obrigue a este tipo de procedimentos junto da CNPD. A questão é até que ponto o consentimento informado se aplica ou deve aplicar às investigações sociológicas? A resposta a esta questão situa-se entre o “sempre” e o “nunca”.
A lei europeia prevê que o consentimento informado não é necessário para a recolha e utilização de dados anonimizados. Em Portugal, a Lei de Proteção de Dados obriga as entidades públicas e privadas a notificarem a CNPD dos tratamentos de dados pessoais que efetuem. Portanto, as questões centrais são as do anonimato, do nível de intrusão e do grau de sensibilidade da informação recolhida e tratada. Pelo que, tanto quanto possível, os sociólogos devem recolher e tratar dados de forma anónima. Ou seja, não basta fazer um tratamento anónimo dos dados. Há que assegurar o princípio que se os dados não anonimizados não forem estritamente necessários para a pesquisa, então, esses dados não devem ser recolhidos. Voltando ao exemplo dos inquéritos por questionário, nas circunstâncias em que no final da realização do inquérito se pergunta ao inquirido se quer deixar um contacto pessoal (telefone, email, …) para eventual confirmação da autenticidade da realização do inquérito, ou para ser incluído numa amostra longitudinal e voltar a ser inquirido posteriormente no âmbito do mesmo estudo, esses procedimentos passam a ser eticamente questionáveis a partir do momento em que se constitui uma base para tratamento de dados com inserção de dados pessoais (número de telefone, endereço de email, …) que permitem identificar respostas com indivíduos concretos. De igual modo, quando se realizam inquéritos em linha e se recorre ao uso de tokens identificadores, não é suficiente informar que os tokens apenas são usados para permitir àqueles que não completaram o preenchimento num primeiro momento que podem retomar e completar o preenchimento posteriormente. É também necessário que os tokens (ou mesmo os IP dos computadores dos respondentes) não sejam inseridos nas bases de dados.
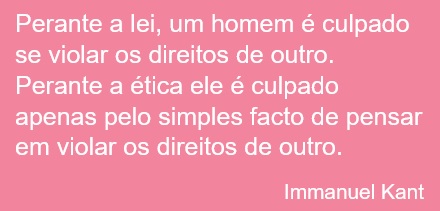
O protocolo de consentimento (VER MODELO ADAPTADO À SOCIOLOGIA e modelos de autorizações específicas no final desta página), seja mais simples ou mais complexo, mais informal ou mais formal, tem necessariamente a ver com o nível de intrusão. Os sociólogos recorrem, frequentemente, a metodologias de natureza intensiva, que envolvem a sujeição a protocolos de pesquisa demorados, sequenciais e/ou intrusivos. Por exemplo, a técnica de observação participante, ou a de investigação-ação, observar práticas de sexualidade, relações domésticas e de intimidade, ou até mesmo práticas profissionais pode constranger os indivíduos e levá-los a querer sair da pesquisa sem que a mesma tenha terminado. Questões destas colocam-se também com metodologias de observação extensivas, como sabem todos aqueles que têm de lidar com as elevadas taxas de respostas incompletas aos inquéritos por questionário.
O consentimento, designadamente na prática profissional dos sociólogos, passa por manter os indivíduos informados dos seus direitos. Esses direitos decorrem da Lei e compreendem o “direito de informação; o direito de acesso; o direito de retificação e eliminação; e o direito de oposição”. O direito de informação, por ser aquele que mais diretamente se relaciona com o consentimento informado, e por ser o que mais se aplica ao tipo e ao modo de recolha de dados usados pelos sociólogos, é o mais relevante para a discussão que aqui está a ser feita. Mas a questão do consentimento informado na sociologia coloca-se por razões que decorrem para lá dos direitos consagrados na Lei.
Ou seja, ainda que possamos usar um modelo de protocolo de consentimento informado, o modelo terá sempre que se adaptar à realidade concreta. Em todo o caso, o consentimento informado significa sempre que os participantes recebem informação suficientemente detalhada sobre a pesquisa em que estão a participar, de modo a poderem tomar uma decisão voluntária, informada e racional em relação a participar ou não participar na pesquisa. A informação é suficientemente detalhada sempre que explicita: o enquadramento e os objetivos da pesquisa; a duração estimada; os procedimentos e o seu nível de intrusão; o direito a não participar ou a pedir para sair a qualquer instante; as consequências que resultam da decisão de recusa em participar ou da decisão de sair da pesquisa; os riscos potenciais, os efeitos negativos ou eventuais incómodos; os benefícios futuros da pesquisa para a sociedade; os incentivos para participação na pesquisa, sejam eles pagamentos em dinheiro ou outro tipo de recompensas; e, não menos importante, quem são as pessoas e quais os contactos que permitem obter informação adicional sobre a pesquisa.
Os participantes na pesquisa têm o direito de, a qualquer instante, poderem recusar participar na pesquisa. Ou seja, o sociólogo tem de deixar claro que a participação é sempre voluntária, mesmo quando o protocolo de observação já vai adiantado. Garante-se este princípio começando por explicitar aos participantes qual a natureza e os objetivos da pesquisa, informando-os dos seus direitos relativamente à participação, incluindo o direito à recusa em participar. Os participantes devem igualmente ser informados sobre a finalidade da recolha e do tratamento de dados, devendo ficar expresso se são ou não feitos para fins estritamente científicos. Têm também direito a saber quem está a recolher e quem vai tratar os dados. Tratando-se de dados pessoais, deve ser-lhes dito a quem vão ser comunicados os dados; em que condições lhes podem aceder e retificá-los; e sobre quais são os dados obrigatórios e os facultativos.
Ainda sobre a questão relativa às circunstâncias em que os sociólogos devem ou não recorrer ao protocolo do consentimento informado, parece-me curial destacar a Resolução brasileira nº 510 de 7 de abril de 2016. Esta resolução, que fixa regras explicitas para a realização de pesquisas na área das ciêncas sociais, baliza o contexto de existência de protocolo de consentimento informado. Esta resolução identifica contextos que ficam à margem do seu âmbito, designadamente:
i) pesquisa de opinião pública com participantes não identificados;
ii) pesquisa que utilize informações de acesso público (...);
iii) pesquisa que utilize informações de domínio público;
iv) pesquisa censitária;
v) pesquisa com bancos de dados, cujas informações são agregadas, sem possibilidade de identificação individual; e
vi) pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos para revisão da literatura científica;
vii) pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam identificar o sujeito; e
viii) atividade realizada com o intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento sem finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, de curso técnico, ou de profissionais em especialização.
§ 1) Não se enquadram no inciso antecedente os Trabalhos de Conclusão de Curso, monografias e similares, devendo-se, nestes casos, apresentar o protocolo de pesquisa
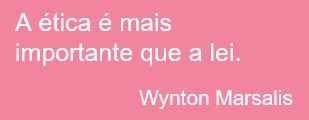 Atualmente, a questão do consentimento entrou no nosso quotidiano de forma abrangente e, muitas vezes, pouco informada. Navegamos na Internet consentindo cookies, usamos aplicações consentido gravações das nossas conversas privadas, consentindo o acesso às nossas fotografias privadas, consentindo a partilha dos nossos dados pessoais entre empresas que não sabemos exatamente quem são e o que fazem ou podem vir a fazer, etc. Pode não ser muito claro, porque a fronteira nem sempre é fácil de definir, em que circunstâncias e em que contextos o consentimento deve ser explicitamente solicitado e formalizado por escrito. Mas as políticas de privacidade e de direito à informação estão a generalizar a formalização do consentimento, ainda que o mesmo nem sempre seja devidamente informado. Ou seja, na sociedade do consentimento, consentimos sem saber exatamente o quê ou sem que nos preocupemos devidamente em saber o que consentimos. Consentir é o preço a pagar para termos acesso às ferramentas que usamos. Mas esse não pode ser nunca o padrão ético da prática profissional dos sociólogos, em particular, nem da realização da investigação científica, em geral.
Atualmente, a questão do consentimento entrou no nosso quotidiano de forma abrangente e, muitas vezes, pouco informada. Navegamos na Internet consentindo cookies, usamos aplicações consentido gravações das nossas conversas privadas, consentindo o acesso às nossas fotografias privadas, consentindo a partilha dos nossos dados pessoais entre empresas que não sabemos exatamente quem são e o que fazem ou podem vir a fazer, etc. Pode não ser muito claro, porque a fronteira nem sempre é fácil de definir, em que circunstâncias e em que contextos o consentimento deve ser explicitamente solicitado e formalizado por escrito. Mas as políticas de privacidade e de direito à informação estão a generalizar a formalização do consentimento, ainda que o mesmo nem sempre seja devidamente informado. Ou seja, na sociedade do consentimento, consentimos sem saber exatamente o quê ou sem que nos preocupemos devidamente em saber o que consentimos. Consentir é o preço a pagar para termos acesso às ferramentas que usamos. Mas esse não pode ser nunca o padrão ético da prática profissional dos sociólogos, em particular, nem da realização da investigação científica, em geral.
Na sociologia, a formalização do consentimento passa muitas das vezes pelo cabeçalho dos inquéritos ou pela explicação oral (que tanto quanto possível deve ser gravada) que se dá aos participantes relativamente ao âmbito da pesquisa, aos seus objetivos e a quem a conduz. Neste aspeto o tipo de destinatário condiciona a formalização do consentimento, pois temos sempre de ter a certeza que os participantes na pesquisa compreenderam os seus direitos. Como temos de ter a certeza que quem consente tem condições objetivas e legais para o fazer (por exemplo, ter idade para consentir, o que não significa ser maior de idade; não ter limitações de natureza mental, não ter representantes legais, etc.). Sendo, por regra, facultada oralmente, a informação para o consentimento, inclusive no domínio da sociologia, pode passar pela obtenção de um consentimento por escrito. Nestes casos, devendo o formulário ser adaptado à circunstância, deve conter uma explicação detalhada do tipo de informação que vai ser recolhida, como vai ser usada e por quem. O formulário deve ser assinado pelo sociólogo responsável pelo protocolo de pesquisa/observação e pela pessoa que dá o consentimento. Aceda ao Modelo editável do Protocolo
Cabe uma última nota em relação à idade do consentimento. A idade do consentimento varia de país para país e varia também relativamente à matéria em relação à qual se consente. Ou ainda em relação à pessoa a quem se dá o consentimento. Em termos de recolha e tratamento de dados, que é a questão que aqui importa, a regulamentação da União Europeia relativa ao uso de dados aponta para os 16 anos de idade como limite genérico a partir do qual um indivíduo sem outras limitações pode dar o seu consentimento em relação aos dados que fornece, pelo que este deve ser o limiar considerado, por exemplo, para a realização de entrevistas ou inquéritos.
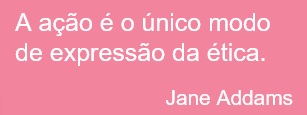 Uma segunda questão ética que decorre, em parte, daquela que acabamos de debater prende-se com a necessidade em garantir a ausência de dano ou dolo. Na prática sociológica há que conferir um interesse particular aos danos laterais. Tem de fazer-se sempre tudo o que seja possível para evitar causar danos aos participantes numa pesquisa, àqueles que estão direta ou indiretamente envolvidos na prática profissional dos sociólogos e também ao próprio sociólogo que desenvolve a sua atividade profissional. Sejam danos físicos, danos psicológicos, danos legais, danos financeiros, ou qualquer outro tipo de danos.
Uma segunda questão ética que decorre, em parte, daquela que acabamos de debater prende-se com a necessidade em garantir a ausência de dano ou dolo. Na prática sociológica há que conferir um interesse particular aos danos laterais. Tem de fazer-se sempre tudo o que seja possível para evitar causar danos aos participantes numa pesquisa, àqueles que estão direta ou indiretamente envolvidos na prática profissional dos sociólogos e também ao próprio sociólogo que desenvolve a sua atividade profissional. Sejam danos físicos, danos psicológicos, danos legais, danos financeiros, ou qualquer outro tipo de danos.
Qualquer pesquisa ou atividade profissional - muito particularmente as baseadas na aplicação de metodologias visuais, onde a salvaguarda do anonimato pode ser mais fácil e involuntariamente quebrada, ou onde o consentimento pode não ter sido devidamente esclarecido e obtido - deve basear-se numa análise de riscos para garantir que todo o tipo possível de danos, seja para o sociólogo seja para os participantes, é minimizado. Quem pesquisa ou desenvolve uma atividade profissional fazendo uso de competências sociológicas tem de ser capaz de avaliar os riscos laterais, incluindo os que se podem manifestar na fase pós-pesquisa.
Com muita frequência, quando alguém é objeto de pesquisa, sobretudo quando se recorre a metodologias intensivas, gera uma expetativa em relação aos resultados. Por isso, quando alguém, uma atividade ou um contexto é tornado objeto de pesquisa ou de trabalho há que assegurar uma proporcionalidade entre o esforço de participação que se solicitou ao objeto e a visibilidade final do seu contributo para o desenvolvimento do trabalho. Certos códigos de ética preveem, em determinados contextos, a possibilidade de coautoria entre o investigador e o objeto. Ainda que isso não seja comum, no mínimo, é expectável que aqueles que foram tornados objeto de estudo tenham um retorno, de preferência em primeira mão, sobre os resultados do trabalho desenvolvido. Ou que possam ter a oportunidade de manifestar o desejo de ter ou não conhecimento direto dos principais resultados alcançados. Quando os participantes não se reveem de todo no produto final ou quando o próprio sociólogo experiencia um sentimento de vergonha em expor aos participantes os resultados do seu trabalho com eles, estamos perante uma situação passível de causar um dano psicológico naqueles que foram objeto do trabalho do sociólogo.
Trabalhar com vítimas de qualquer espécie é também um contexto de exercício das atividades do sociólogo que exige uma atenção redobrada. Todas as vítimas têm um agressor e em caso algum o trabalho do sociólogo, ainda que involuntariamente, pode contribuir para aumentar o grau de exposição das vítimas ao agressor, agravando, por essa via, um dano de intolerável aceitação. Em outros contextos, sejam por exemplo aqueles onde ocorrem atividades informais ou ilegais, contextos sujeitos a estigmatização, contextos dominados por uma forte instrumentalização política, entre outros, os protocolos de observação sociológica têm de ser prévia e devidamente pensados, ponderados e testados, sob pena de ser o próprio sociólogo a ser vítima de dano ou dolo.
Uma terceira questão de ordem ética, que decorre da necessidade em garantir o anonimato e da precaução em relação ao dano ou ao dolo, tem especificamente a ver com a privacidade e a confidencialidade. No exercício da sua atividade profissional, o sociólogo deve privilegiar os princípios da privacidade e da confidencialidade. O nível de intrusão não pode ameaçar o direito das pessoas à sua privacidade e toda a informação que for obtida em contexto confidencial deve ser mantida como tal (na realização de entrevistas gravadas, por exemplo, falas em off não devem ser sequer registadas). Ainda que tenha obtido o consentimento para usar o nome real de pessoas ou instituições, não sendo esse aspeto fundamental para caracterizar o objeto ou fenómeno abordado, o sociólogo deve anonimizar, sempre que possível, a sua informação. A privacidade, em qualquer contexto de observação, só é sociologicamente relevante enquanto fenómeno estatístico ou enquanto exemplo para caracterizar abstratamente factos ou processos sociais relevantes. Fora disso tende a ser uma curiosidade mórbida que não interessa disciplinar e instrumentalmente à sociologia. Por sua vez, a confidencialidade assenta também no princípio da precaução que alerta para a vicissitude das mudanças a que estão sujeitas as realidades sociais. Ou seja, a informação muito circunstanciada e não anonimizada que hoje é anódina num contexto pode brevemente tornar-se inoportuna num outro contexto. A confidencialidade obriga ainda a um cuidado acrescido sempre que são recolhidos dados reservados, pois o seu armazenamento em computadores, em servidores e em dispositivos portáteis (que podem ser perdidos, roubados ou pirateados) é uma ameaça real das sociedades em que vivemos.
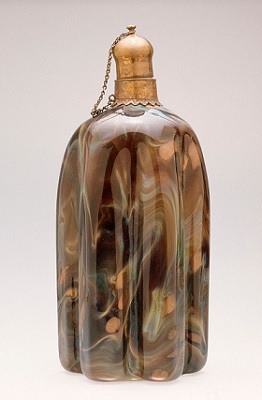 Uma quarta questão de ordem ética diz respeito a uma das vertentes mais complexas da aplicação de metodologias e de técnicas de investigação sociológicas. Tem a ver com o engano deliberado ou estratégico. Na aplicação de certas metodologias há sempre uma área cinzenta. Porém, o princípio básico é que a mentira e o engano deliberado na pesquisa devem ser sempre evitados. A não ser que haja razões teóricas ou metodológicas que sejam válidas e justificadas. O engano é uma dessas zonas cinzentas e é uma questão muito debatida na aplicação de metodologias. Sobretudo nas metodologias que são mais intrusivas. Alguns autores argumentam que observar outros sem explicitar o nosso papel de observadores é enganar; é cometer um logro. Outros autores argumentam que só se engana a partir do momento que se manipulam os dados para obter resultados desejados. Não sendo nada consensuais, os debates em torno desta questão relevam vários exemplos que mostram a necessidade em se recorrer metodologicamente ao logro. Um exemplo conhecido e debatido é o de uma pesquisa feita para estudar as respostas das pessoas a anúncios falsos. Se se dissesse previamente que os anúncios eram falsos as pessoas não iriam responder e o objeto de estudo não existiria. Por outro lado, os defensores do recurso ao logro argumentam que os impactos negativos nos respondentes são mínimos. Não querendo prolongar aqui esta discussão, recordamos apenas que ela encerra muitos dos dilemas ligados à investigação participante, na medida em que a identificação prévia do sociólogo como tal retira os agentes do universo ‘natural’ que se quer observar ‘naturalmente’.
Uma quarta questão de ordem ética diz respeito a uma das vertentes mais complexas da aplicação de metodologias e de técnicas de investigação sociológicas. Tem a ver com o engano deliberado ou estratégico. Na aplicação de certas metodologias há sempre uma área cinzenta. Porém, o princípio básico é que a mentira e o engano deliberado na pesquisa devem ser sempre evitados. A não ser que haja razões teóricas ou metodológicas que sejam válidas e justificadas. O engano é uma dessas zonas cinzentas e é uma questão muito debatida na aplicação de metodologias. Sobretudo nas metodologias que são mais intrusivas. Alguns autores argumentam que observar outros sem explicitar o nosso papel de observadores é enganar; é cometer um logro. Outros autores argumentam que só se engana a partir do momento que se manipulam os dados para obter resultados desejados. Não sendo nada consensuais, os debates em torno desta questão relevam vários exemplos que mostram a necessidade em se recorrer metodologicamente ao logro. Um exemplo conhecido e debatido é o de uma pesquisa feita para estudar as respostas das pessoas a anúncios falsos. Se se dissesse previamente que os anúncios eram falsos as pessoas não iriam responder e o objeto de estudo não existiria. Por outro lado, os defensores do recurso ao logro argumentam que os impactos negativos nos respondentes são mínimos. Não querendo prolongar aqui esta discussão, recordamos apenas que ela encerra muitos dos dilemas ligados à investigação participante, na medida em que a identificação prévia do sociólogo como tal retira os agentes do universo ‘natural’ que se quer observar ‘naturalmente’.
Uma quinta questão de ordem ética interligada às anteriores, mas que merece um destaque particular, remete para o trabalho profissional dos sociólogos junto de populações vulneráveis. Algumas populações ou grupos sociais têm necessidades especiais ou especificidades que implicam uma atenção redobrada quando se faz uma pesquisa e se aplicam metodologias de diagnóstico ou de intervenção. Trabalhos que envolvam crianças, pessoas com incapacidades mentais, pessoas institucionalizadas em hospitais ou instituições afins, podem implicar, normalmente implicam, o consentimento de quem é responsável por elas. Há outras situações em que determinados grupos, como por exemplo indígenas ou habitantes de um bairro com problemas, podem ser hostis se a abordagem não for feita em termos culturalmente apropriados.
Uma sexta e última questão de ordem ética, que não pretende encerrar a discussão, mas apenas destacar outra dimensão importante da ética e das questões deontológicas na sociologia, remete para uma vertente mais formal ligada à produção de relatórios científicos ou técnicos e para o uso em âmbito académico e científico de material protegido por direitos de autor (reprodução, controlo sobre trabalhos derivados do original, distribuição, apresentação pública, direito a ser citado). Mais concretamente para a questão do chamado uso adequado (Fair use e Fair dealing), doutrina que se consolidou a partir dos EUA no final dos anos 1970. Um uso adequado é aquele que não concretiza uma apropriação indevida ou abusiva do trabalho dos outros. Os objetivos do uso que fazemos do trabalho dos outros; a quantidade do trabalho dos outros que usamos no nosso trabalho; o valor mercantil do uso que fazemos do trabalho dos outros; e a natureza do trabalho dos outros que está protegido por copyright são os 4 fatores fundamentais para avaliar até que ponto o uso que se faz do trabalho dos outros é adequado ou não. O uso abusivo que fizemos da expressão “trabalho dos outros” nas frases precedentes é intencional, pois o trabalho dos outros é mesmo dos outros e não nosso. E só podemos torná-lo nosso na exata medida em que dele façamos um “uso adequado”. Caso contrário, estamos a torná-lo indevidamente nosso. Para darmos um exemplo breve e elucidativo, basta lembrar que quando citamos e referenciamos devidamente, sem estar a plagiar, uma fonte bibliográfica, se o fizermos em excesso (já discutiremos a questão do excesso), embora não se tenha cometido plágio, o excesso é uma apropriação indevida, nada ética, do trabalho dos outros, tão ou mais grave que um plágio inocente, por exemplo.
Os objetivos ou o âmbito em que usamos o trabalho dos outros é uma questão relevante para a legislação que delimita o uso adequado do trabalho dos outros. Essa legislação é composta pela diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia (harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação), pela diretiva 2004/48/CE (relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual) e pelas Leis 50/2004 e 16/2008, que transpõem as referidas diretivas para a legislação nacional. Os direitos referidos na legislação são o direito de reprodução, o direito de comunicação de obras ao público e o direito de distribuição.
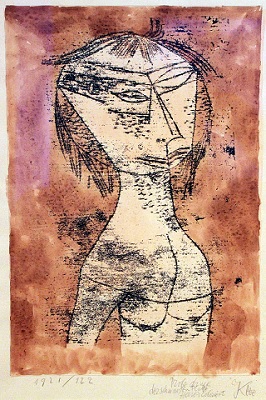 As exceções e limitações impostas a estes direitos esclarecem que os direitos de reprodução não são violados desde que os autores detentores do direito recebam uma compensação justa (“equitativa”), mas detalham especificamente que “[…] atos específicos de reprodução praticados por bibliotecas, estabelecimentos de ensino ou museus acessíveis ao público, ou por arquivos, que não tenham por objetivo a obtenção de uma vantagem económica ou comercial, direta ou indireta” (artigo 5, nº 2, alínea c da diretiva 2001/29/CE) têm liberdade de direito de reprodução sem sujeição à atribuição da compensação justa. A questão da compensação justa remete para o valor comercial do uso que é feito, pelo que o uso em âmbito académico, não sendo comercial (passa a sê-lo, por exemplo, se uma Tese vier a ser reproduzida sob a forma de livro), está à margem do princípio da compensação justa. Ou seja, em âmbito académico, a compensação justa é balizada pelo dever de citação, pela indicação expressa dos direitos limitativos impostos pelo autor do trabalho usado e pela garantia de um uso não excessivo.
As exceções e limitações impostas a estes direitos esclarecem que os direitos de reprodução não são violados desde que os autores detentores do direito recebam uma compensação justa (“equitativa”), mas detalham especificamente que “[…] atos específicos de reprodução praticados por bibliotecas, estabelecimentos de ensino ou museus acessíveis ao público, ou por arquivos, que não tenham por objetivo a obtenção de uma vantagem económica ou comercial, direta ou indireta” (artigo 5, nº 2, alínea c da diretiva 2001/29/CE) têm liberdade de direito de reprodução sem sujeição à atribuição da compensação justa. A questão da compensação justa remete para o valor comercial do uso que é feito, pelo que o uso em âmbito académico, não sendo comercial (passa a sê-lo, por exemplo, se uma Tese vier a ser reproduzida sob a forma de livro), está à margem do princípio da compensação justa. Ou seja, em âmbito académico, a compensação justa é balizada pelo dever de citação, pela indicação expressa dos direitos limitativos impostos pelo autor do trabalho usado e pela garantia de um uso não excessivo.
Por sua vez, os direitos de comunicação de obras ao público e os direitos de distribuição estão limitados (pelas alíneas do nº 3 da referida diretiva) em casos que relevam a especificidade de usos frequentes em meio académico e no desenvolvimento das atividades profissionais dos sociólogos. Designadamente, e transcrevemos:
a) Utilização unicamente com fins de ilustração para efeitos de ensino ou investigação científica, desde que seja indicada, exceto quando tal se revele impossível, a fonte, incluindo o nome do autor e, na medida justificada pelo objetivo não comercial que se pretende atingir;
b) Utilização a favor de pessoas portadoras de deficiências, que esteja diretamente relacionada com essas deficiências e que apresente carácter não comercial, na medida exigida por cada deficiência específica;
c) Reprodução pela imprensa, comunicação ao público ou colocação à disposição de artigos publicados sobre temas de atualidade económica, política ou religiosa ou de obras radiodifundidas ou outros materiais da mesma natureza, caso tal utilização não seja expressamente reservada e desde que se indique a fonte, incluindo o nome do autor, ou utilização de obras ou outros materiais no âmbito de relatos de acontecimentos de atualidade, na medida justificada pelas necessidades de informação desde que seja indicada a fonte, incluindo o nome do autor, exceto quando tal se revele impossível;
d) Citações para fins de crítica ou análise, desde que relacionadas com uma obra ou outro material já legalmente tornado acessível ao público, desde que, exceto quando tal se revele impossível, seja indicada a fonte, incluindo o nome do autor, e desde que sejam efetuadas de acordo com os usos e na medida justificada pelo fim a atingir;
e) Utilização para efeitos de segurança pública ou para assegurar o bom desenrolar ou o relato de processos administrativos, parlamentares ou judiciais;
f) Uso de discursos políticos e de palestras públicas ou trabalhos ou matérias similares até ao limite justificado pelo objetivo de informar, desde que, exceto quando tal se revele impossível, seja indicada a fonte, incluindo o nome do autor;
g) Utilização em celebrações de carácter religioso ou celebrações oficiais por uma autoridade pública;
h) Utilização de obras, como, por exemplo, obras de arquitetura ou escultura, feitas para serem mantidas permanentemente em locais públicos;
i) Inclusão episódica de uma obra ou outro material protegido noutro material;
j) Utilização para efeitos de publicidade relacionada com a exibição pública ou venda de obras artísticas na medida em que seja necessária para promover o acontecimento, excluindo qualquer outra utilização comercial;
k) Utilização para efeitos de caricatura, paródia ou pastiche;
l) Utilização relacionada com a demonstração ou reparação de equipamentos;
m) Utilização de uma obra artística sob a forma de um edifício, de um desenho ou planta de um edifício para efeitos da sua reconstrução;
n) Utilização por comunicação ou colocação à disposição, para efeitos de investigação ou estudos privados, a membros individuais do público por terminais destinados para o efeito nas instalações dos estabelecimentos referidos na alínea c) do nº 2, de obras e outros materiais não sujeitos a condições de compra ou licenciamento que fazem parte das suas coleções;
o) Utilização em certos casos de menor importância para os quais já existam exceções ou limitações na legislação nacional, desde que a aplicação se relacione unicamente com a utilização não-digital e não condicione a livre circulação de bens e serviços na Comunidade, sem prejuízo das exceções e limitações que constam do presente artigo.
 Resumindo, em termos práticos, as instituições do terceiro setor, as instituições de ensino superior, os professores e os estudantes encontram-se numa situação particular relativamente às questões do ‘uso adequado’ e da ‘compensação justa’. Significa que não fazendo, por via de regra, uso comercial do trabalho dos outros, o uso adequado e a compensação justa têm a ver sobretudo com o respeito dos chamados “direitos morais”; ou seja, o direito de reconhecimento e de atribuição da autoria.
Resumindo, em termos práticos, as instituições do terceiro setor, as instituições de ensino superior, os professores e os estudantes encontram-se numa situação particular relativamente às questões do ‘uso adequado’ e da ‘compensação justa’. Significa que não fazendo, por via de regra, uso comercial do trabalho dos outros, o uso adequado e a compensação justa têm a ver sobretudo com o respeito dos chamados “direitos morais”; ou seja, o direito de reconhecimento e de atribuição da autoria.
A questão do uso excessivo, que em cima referimos, tem a ver com a filosofia de base dos direitos autorais. Quando citamos ao ponto de não haver necessidade de consultar o trabalho que citamos porque dele fazemos uma descrição extensa e pormenorizada; ou quando fazemos um uso de qualquer tipo de trabalho e esse uso extravasa o âmbito e os objetivos do nosso próprio trabalho; ou quando usamos a totalidade de um trabalho produzido por copyright; nestes casos a quantidade usada do trabalho dos outros é excessiva.
Quanto ao valor mercantil do uso que fazemos do trabalho dos outros, podemos ter uma conceção mais lata ou mais estreita de valor mercantil. Numa conceção mais estreita, o valor mercantil aponta para a geração de ganhos de natureza económica. Numa conceção mais lata, o mercado inclui ganhos de natureza não económica, podendo, por exemplo, estender-se ao mercado da reputação e do mérito académico. Nestes termos, o uso adequado está sempre tanto mais garantindo quanto o uso que fizemos do material dos outros não for comercial, for feito de forma parcial, for comunicado e distribuído a um grupo limitado de pessoas e for pelo mínimo tempo possível. Ou seja, usar material protegido por direitos autorais difere de o usarmos numa aula, numa conferência, num artigo, ou num trabalho reproduzido na Internet.
 Por fim, mas não menos importante, para avaliar até que ponto o uso que se faz do trabalho dos outros é adequado ou não, há que considerar a questão da natureza do trabalho dos outros. Trabalhos de natureza artística e criativa, assim como trabalhos que não foram publicados carecem da autorização de uso pelos seus autores. As licenças Creative Commons, que estão hoje em processo generalizado de adoção, procuram tornar mais claro o uso de direitos autorais. Criadas no início do século XXI, no âmbito de um processo social preocupado em definir conceitos e licenças de uso (por exemplo, código aberto, trabalhos culturais de uso livre, o projeto das licenças GNU, as licenças BSD, etc.), as licenças Creative Commons estendem-se para lá de uma preocupação inicialmente mais centrada no uso de software. A vantagem das licenças Creative Commons, para além de terem um vasto campo de aplicação, reside em permitir que sejam os próprios autores a definir de que tipo de direitos de autor abdicam e quais querem ver respeitados, definindo especificamente as condições em que o seu trabalho pode e não pode ser usado. Esta questão é tanto mais relevante quando se tende a confundir a disponibilidade de trabalhos/conteúdos na Internet e o domínio público (que, aglomerando os trabalhos que por Lei deixaram de ter direitos autorais de exclusividade, autoriza o uso para qualquer fim, incluindo comercial). Ainda que, note-se, haja uma discussão pública, não consensual, sobre se a Internet é, deve ser, ou não deve ser domínio público.
Por fim, mas não menos importante, para avaliar até que ponto o uso que se faz do trabalho dos outros é adequado ou não, há que considerar a questão da natureza do trabalho dos outros. Trabalhos de natureza artística e criativa, assim como trabalhos que não foram publicados carecem da autorização de uso pelos seus autores. As licenças Creative Commons, que estão hoje em processo generalizado de adoção, procuram tornar mais claro o uso de direitos autorais. Criadas no início do século XXI, no âmbito de um processo social preocupado em definir conceitos e licenças de uso (por exemplo, código aberto, trabalhos culturais de uso livre, o projeto das licenças GNU, as licenças BSD, etc.), as licenças Creative Commons estendem-se para lá de uma preocupação inicialmente mais centrada no uso de software. A vantagem das licenças Creative Commons, para além de terem um vasto campo de aplicação, reside em permitir que sejam os próprios autores a definir de que tipo de direitos de autor abdicam e quais querem ver respeitados, definindo especificamente as condições em que o seu trabalho pode e não pode ser usado. Esta questão é tanto mais relevante quando se tende a confundir a disponibilidade de trabalhos/conteúdos na Internet e o domínio público (que, aglomerando os trabalhos que por Lei deixaram de ter direitos autorais de exclusividade, autoriza o uso para qualquer fim, incluindo comercial). Ainda que, note-se, haja uma discussão pública, não consensual, sobre se a Internet é, deve ser, ou não deve ser domínio público.
Relativamente aos trabalhos/conteúdos, designadamente fotos/imagens retiradas da Internet, que encerram direitos autorais claramente expressos deve ter-se um especial cuidado. A regra é usar nos termos definidos ou não usar se os termos de cedência não estiverem definidos. Querendo usar-se sem que os termos de cedência estejam definidos, deve obter-se formalmente uma cedência dos direitos autorais. A formalização deve detalhar: i) quais os direitos específicos que são cedidos (reprodução, adaptação ou representação); ii) para cada tipo de uso autorizado, em que meios/formatos é permitido o uso; iii) para que tipo de uso são cedidos os direitos (sobretudo se é ou não comercial); iv) o Âmbito territorial (especificando que tipo de usos podem ser feitos na Internet); v) a duração, ou seja por quanto tempo são os direitos cedidos.
Ainda assim, atendendo às excecções de que gozam os trabalhos académicos, mesmo tratando-se de trabalhos académicos, em vez de se usar fotos/imagens de que não se tem a certeza por que direitos estão protegidas, é sempre preferível recorrer a bancos de imagens que permitem, à partida, um uso mais livre e menos restritivo, como, por exemplo, a Wikimedia Commons, a Pixabay ou a Pexels. (Ver a vasta lista de recursos de Domínio Público disponibilizada pela Wikipedia. Mais do que regras claras e inequívocas, que nem sempre existem, é, frequentemente, o bom senso que deve pautar as decisões sobre usar ou não usar fotos/imagens disponíveis na Internet. Por exemplo, quando as regras não estão claramente definidas em termos de direitos de uso ou de cedência, manda o bom senso que se podem usar fotos desde que a imagem não atente à vida privada, não seja passível de causar um dano à dignidade da pessoa, que não tenha sido obtida de forma fraudulenta e que esteja adequada ao contexto e ao texto que a acompanha. Em contexto académico, a zona de fronteira entre o uso indevido e o uso adequado de imagens/fotos é menos problemática e menos suscetível de gerar problemas. Essa zona de fronteira fixa uma zona cinzenta que começa, recorrentemente, na publicação de fotografias/imagens sem que estejam devidamente especificados e protegidos os direitos autorais. Todavia, é curial assinalar que não há fotografias livres de direitos autorais e que quem fez a fotografia/produziu a imagem manterá sempre direitos autorais (até os mesmo serem revogados ou cedidos em determinados termos). O uso de fotos e de imagens que não esteja expressamente protegido por direitos autorais que proibam o uso, deve pautar-se pelos princípios, em cima enunciados, do fair use, do fair dealing e da compensação justa. Por uma questão de precaução, é sempre preferível usar fotos/imagens em que os seus autores definam claramente os termos de uso das mesmas. Se vivemos em sociedades em que os autores raramente definem os termos de uso das fotos/imagens que publicam (tornando, desde logo, a sua reutilização problemática), também nos movemos em contextos em que muitas fotos foram obtidas em contextos ilícitos ou eticamente reprováveis. Se a isso juntarmos o modo como a Internet e as redes sociais reproduzem e readaptam (transformando, devida ou indevidamente) fotos/imagens, o terreno torna-se pouco legível. Por isso, o princípio da precaução (usar, preferencialmente, imagens/fotos cujos termos de cedência de direitos são claros) e o princípio de respeito incontornável dos direitos morais (formalizando sempre a autoria e referenciando a fonte de origem da foto/imagem utilizada) devem ser sempre seguidos.
Uma outra questão de natureza ética, deontológica e com eventuais consequências legais tem a ver com a produção própria de fotografias para ilustrar trabalhos académicos (o que acaba por ser frequente no trabalho sociológico). Desde logo, é curial notar que não é necessariamente obrigatório ter uma autorização escrita para fotografar uma pessoa ou mesmo uma propriedade privada. Quando se fotografa uma pessoa, a prova do consentimento pode repousar noutros meios (testemunhos de terceiros, confissão do fotografado, comportamento do fotografado, etc.). Mais uma vez, a fronteira não é totalmente definida. Embora seja mais simples e mais seguro obter o consentimento de modo formal (ver modelos nesta página), é possível demonstrar a posteriori que o(a) fotografado(a) deu o seu consentimento. No limite, num local público, é possível fotografar o que quer que seja sem autorização. Qualquer procedimento de responsabilização de quem fotografa sem autorização só pode ser encetado uma vez que as imagens recolhidas sejam difundidas ou tornadas públicas. Uma fotografia, em si mesma, é um ponto de vista e qualquer ponto de vista só pode constituir um ilícito quando publicado ou manifestado. Ainda assim, em termos éticos, um ponto de vista já pode ser confrontado com padrões morais de julgamento. Numa sociedade em que o roubo de imagens/fotos captadas por dispositivos portáteis ou a publicação inadvertida se vêm tornando triviais (problema do vazamento de informação), é eticamente reprovável recolher imagens sem interesse científico ou sem interesse público tendo-se consciência que essas imagens, uma vez divulgadas, podem causar danos às pessoas fotografadas. Por isso é eticamente aconselhável que quando se fotografam pessoas, ainda que com consentimento formal dos fotografados ou dos seus tutores, se evitem planos individuais e de exposição, a não ser que os mesmos sejam fundamentais para a realização do trabalho. Do mesmo modo que, quando se fotografam bens privados a partir do espaço público, esses bens devem aparecer preferencialmente como elementos da paisagem e não como elemento individualizado da imagem captada.
MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE REGISTO DE IMAGENS/SONS PARA ADULTOS | Ver em ficheiro docx (editável)
MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE REGISTO DE IMAGENS/SONS PARA MENORES DE IDADE | Ver em ficheiro docx (editável)
MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DESENHOS, FOTOGRAFIAS E TRABALHOS REALIZADOS POR MENORES DE IDADE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO | Ver em ficheiro docx (editável)